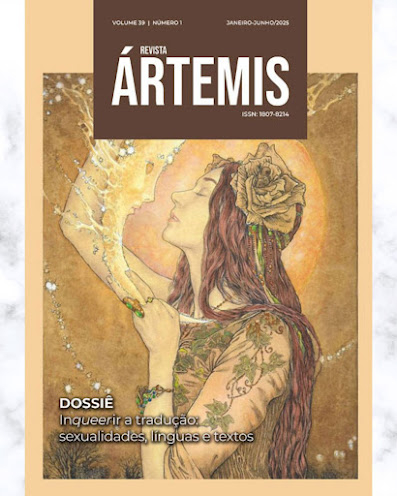Em 28 de agosto último, fiz um desagravo à memória de Rosely Roth pelos 34 anos de sua morte. Esse desagravo surgiu porque sua imagem vem sendo usada como token de narrativas ideológicas sobre uma suposta perseguição dos militares a gays e lésbicas que teria existido até 1984 (sic). Daqui a pouco vão inventar que houve gente perseguida pelos militares até 1989. Apontava que esse tokenismo se compunha de fraudes grosseiras que não batiam com a história do país, do movimento homossexual nos seus primórdios nem com a própria trajetória dela. Nem cronologica nem ideologicamente Rosely poderia ter sido porta-voz da luta contra algo que nem mais existia.
Desta feita, falo também da minha primeira produção, pelo Grupo Ação Lésbica Feminista (GALF), o zine Chana com Chana, igualmente vitimada por essas fraudes grosseiras, e explico como ela foi parar nessas narrativas. Já havia abordado esse tema em outros artigos, de outras perspectivas, dos quais aqui repito informações (deixo links para eles no quadro ao fim do texto), mas avanço outros dados que traçam a origem dessa história. O fato é que sequer existe menção ao regime militar nas páginas de qualquer edição do Chana, mas ele também tem sido usado para ilustrar supostas resistências à ditadura militar em plena época dos comícios das Diretas Já.
Uma das razões porque resgatei e resenhei todas as edições do Chanacomchana foi para ter certeza de que não havia qualquer menção ao regime militar em suas edições. De repente, nas cartas dos leitores. Mas, como eu lembrava, nem aí. As pessoas, militantes ou não, não estavam preocupadas com o regime em decomposição e sim com seus problemas enquanto homossexuais. Fica, então, para os fraudulentos, o ônus de provar como uma publicação contemporânea da campanha das Diretas Já, que nunca sequer mencionou os militares e que tinha como linha editorial exclusivamente a questão homossexual, poderia ter sido resistência contra a ditadura militar. O único grupo homossexual que abordava à macropolítica da época era a Fração Gay da Convergência Socialista. Não por coincidência é um de seus protagonistas um dos protagonistas da fraude atual, como citarei mais adiante.
Sempre tive enorme gastura, um mal-estar quase físico com o hiperdimensionamento do regime militar feito por remanescentes da (extrema) esquerda do período e seus discípulos atuais. Em outras palavras, esse pessoal pinta o diabo muito mais feio do que foi, travestindo um regime autoritário de totalitário, característica que não teve em momento algum, nem mesmo durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici (69-74), a um tempo o mais repressivo e o mais popular dos governos militares. Esse aparente paradoxo se explica porque, à parte a baixa consciência democrática brasileira, se de um lado havia os anos de chumbo, abafados pela censura, do outro, vigorava à época o auge do milagre econômico. Fora que a repressão não atingia a maioria da população e a prosperidade econômica temporária alimentava o clima ufanista do momento. (Eu mesma só experimentei a repressão autoritária, em 1977, quando fui presa na tristemente histórica invasão da PUC-SP pelo famigerado coronel Erasmo Dias.) No artigo As duas décadas dos anos 70, do livro Anos 70: Trajetórias, a psicanalista Maria Rita Kehl descreveu bem aquele momento: “Os anos 70, que iniciaram em 1969, foram terríveis. Todo o mundo parecia apoiar a ditadura”.
Ressalto que meu conhecimento do período advém de experiência vivida, não de leituras enviesadas de militantes travestidos de acadêmicos. Quando os militares chegaram ao poder eu tinha 10 anos e, quando saíram, 30. Passei o início da minha puberdade e da minha juventude sob o regime, particularmente meus 20 anos em seu período francamente ditatorial, o do AI-5 (13/12/1968- 13/10/1978). Sei bem como era o zeitgeist, o espírito da época dos anos 60, 70, já adentrando os anos 80, que foi o da esquerda libertária da Contracultura, não o da esquerda tradicional (marxista-leninista, maoísta, trotskista, etc). Esta, além de fora de moda, pela emergência da nova esquerda dos movimentos sociais, ainda contava com a perseguição dos militares. Por isso sei também que o binômio censura-tortura, a que se procura reduzir quase 21 anos da nossa História, não bate com os fatos. Pior, distorce a história do período e impede uma análise mais ampla, de diferentes ângulos, que nos permita contextualizá-la dentro do conjunto da História do Brasil, cheia de tentativas de golpes e ditaduras, e nos possibilite inclusive entender por que nunca conseguimos uma democracia plena no país até hoje. Aliás, vivemos novamente um clima autoritário.
Como recentemente também apareceram os que subestimam o regime militar e até negam seu caráter autoritário, cumpre salientar que nenhuma pessoa democrata – coisa que a maioria dos hiperdimensionadores não é – vai negar que os militares tenham estabelecido um regime de exceção à regra democrática, em particular de 68 a 78, que tenha havido realmente censura e abusos contra os direitos humanos no período com prisões arbitrárias e mortes sob tortura. Problema é que o hiperdimensionamento de tudo isso não condiz com o fato de os militares terem tido apoio popular e de várias instituições da sociedade para chegar ao poder e nele se manter por tanto tempo. Com um pouco de raciocínio se depreende que eles sequer tinham por que instalar um regime totalitário no país, pois a maioria do povo os apoiava. De fato, foi só com o fim do milagre econômico, que não era sustentável, a partir de 74, e a crise econômica decorrente, que os militares passaram a perder o prestígio junto à população.
O hiperdimensionamento do autoritarismo do regime militar foi construído a partir da edição da experiência real dos que sofreram algum episódio de prisão, tortura, cassação de mandato, exílio, censura, projetada sobre a realidade de toda a população. E o envolvimento do Chanacomchana, um zine do período da transição democrática, acabou por exemplificar - como eu nunca poderia ter imaginado - o quanto de mentira cabe nessa história.
Vale notar, inclusive, que muitas publicações de cunho contracultural, que em geral nada falavam sobre o regime e não por causa da censura, foram publicadas durante o período do AI-5 e nem por isso se pode identificá-las como resistências ao regime. A não ser forçando muito a barra, como é de costume hoje. A palavra "resistência" virou um clichê cada vez mais esvaziado de sentido pelo mal uso.
Como o Chanacomchana foi parar nessa narrativa ideológica fraudulenta – I
Assim como outros ativistas pioneiros do MHB, discordei dessa tese desde que tomei conhecimento dela. Nunca ninguém tinha ouvido falar de tal perseguição estatal a homossexuais mesmo no início do movimento, quando ainda estávamos sob o regime militar, embora já no período da abertura. Homofobia existia por todo o lado nos anos 60, 70 e mesmo 80. Alguém saber da homossexualidade de um empregado no ambiente de trabalho, em qualquer área pública ou privada, acarretava a perda do emprego em 99% das situações. A maioria dos gays e das lésbicas (essas em particular) não se colocava abertamente como homossexual nem na família, nem na escola, nem em qualquer outro ambiente que não fosse homossexual. E isso nada tinha a ver com a ditadura, tanto que a vida dupla prevaleceu entre gays e lésbicas por toda a década de 80, já adentrando na de 90. Só nos anos 90 é que homossexuais, sobretudo as lésbicas, começam a efetivamente sair do armário em maior número. Os anos 80 foram só para os fortes.
Personagens cujo histórico questiona as próprias teses
Além de ninguém ter ouvido falar de repressão estatal de gays e lésbicas no período militar, dando a impressão desse trabalho ter sido feito de encomenda para a Comissão Nacional da Verdade, algumas das pessoas envolvidas nessa tese como o brasilianista James Green e, no desenrolar dessa fábula, a personagem Marisa Fernandes, notória por se colocar como protagonista do que não viveu nem fez, tornaram, por si sós, tudo mais discutível. Green parece que se firmou como brasilianista, mas, para a história do Movimento Homossexual Brasileiro, entrou mesmo como o gringo da Convergência Socialista que levou ao racha do Somos em 17 de Maio de 1980.
Nessa ocasião, os fundadores do Somos deixaram o grupo por considerá-lo irremediavelmente comprometido por infiltração da Convergência Socialista (CS), LE, p. 8 que visava transformar o Somos e outros grupos organizados do Brasil em canal para a entrada de homossexuais na Convergência Socialista e no Partido dos Trabalhadores, transformando-os em “caixa de ressonância” de suas propostas político-partidárias. E isso não se trata de mera opinião dos fundadores do Somos, mas sim de informações tiradas de documento interno da CS, de acordo com informativo (05/83) do grupo Outra Coisa de Ação Homossexualista escrito por Antonio Carlos Tosta
Naquela época, contudo, a CS foi amplamente rechaçada pelo incipiente movimento homossexual que não queria se ver atrelado a correntes político-partidárias mal acabara de nascer. Em dezembro de 1980, no Rio, em reunião para organização do que seria o II EGHO (Encontro de Grupos Homossexuais Organizados), os grupos presentes nem sequer aceitaram discutir a Coordenação Nacional proposta pela Fração Gay da Convergência Socialista. A própria CS, em seu livrinho Homossexualismo: da Opressão à libertação, p. 9, (Hiro Okita) afirmou:
No mesmo ano de 1980, os debates dentro do próprio movimento homossexual começaram a tomar outros rumos. Preocupava ao movimento uma suposta postura oportunista das esquerdas brasileiras em relação à discussão homossexual. Essa preocupação leva todos os grupos do movimento homossexual a colocarem-se "contra qualquer tipo de poder" (menos o da ditadura militar!) e a senha para esses grupos passou a ser "autonomia".
Green, segundo o próprio, deixou o movimento já a partir de 1981, na esteira de seu esvaziamento. A Fração Gay da CS idem, apesar de ter se transplantado para o Somos. O Somos, cooptado pelos convergentes, por sua vez, sempre às voltas com gurus, terminou, no segundo semestre de 1983, ironicamente com uma levada contracultural, por certo trazida pela influência do escritor e antropólogo argentino Nestor Perlongher. O MHB ficou muito reduzido e desprestigiado na década de 80, e não havia quase nada para cooptar e aparelhar. Só vou rever essas figuras do início do movimento, Green incluído, a partir sobretudo do VII Encontro de Lésbicas e Homossexuais que organizei pela Rede de Informação Um Outro Olhar em setembro de 1993. Na década de 80, eles sumiram, mas agora querem reescrever a história que não viveram. Principalmente Green parece querer retomar o golpe, que a CS não conseguiu dar no MHB dos anos 80, em modo retroativo.
Neste texto, quero abordar a nova personagem de lutadora contra a ditadura militar e por ela perseguida encarnada por Fernandes como um exemplo da tese furada em pauta em que meteram o Chana. Fernandes é como uma espécie de ISO 9000 às avessas: onde ela aparece a qualidade da história desaparece. Tive o enorme infortúnio de conviver com essa figura lastimável exatamente no período do AI-5, por isso sei que ela não foi nenhuma lutadora contra a ditadura militar, muito menos perseguida por ela. Era uma típica jovem contracultural da época, às voltas com sexo, drogas e rock’n’ roll. Transava com uns e outras, tomava todas e inclusive foi uma das poucas pessoas de meu convívio a tentar a vida comunitária em casinhas à beira de riachos e ao pé de montanhas (mesmo ainda na década de 80). Então, Fernandes eu conheci e sei que essa sua nova personagem é só mais uma de suas interpretações com vistas provavelmente a receber alguma indenização do Estado por uma perseguição que não sofreu. Mas, e as outras pessoas que constam como perseguidas políticas, por exemplo, no site Memorial da Resistência, e que não conheci? Será que foram perseguidas pelos militares como a Marisa Fernandes? As pessoas deveriam lembrar daquele velho ditado de que “uma maçã podre num cesto de maçãs frescas estraga todas as outras”. Depois reclamam da falta de credibilidade.
Como o Chanacomchana foi parar nessa narrativa ideológica fraudulenta – II
Apesar dos pontos levantados acima sobre a questionabilidade dessa tese, eu mesma tinha colocado, na minha lista de leituras, os textos decorrentes dela, sob a rubrica "ditadura e homossexualidade", que foram aparecendo. De repente, poderia encontrar algo que não fosse fake. Enquanto isso, à guisa de piada, de vez em quando, alguém me mandava notícias e vídeos da nova personagem de Fernandes, a lutadora contra a ditadura, recebendo prêmios por essa suposta luta.
Na verdade, ao que tudo indica para dar sustentação a uma tese que não se sustenta sozinha, os protagonistas da mesma e seus associados, desde o início, já começaram a reescritura da história do país, do movimento homossexual do chamado ciclo libertário (1978-1984) e inclusive da década de 80. O famoso Lampião da Esquina se encaixou bem na narrativa da perseguição militar a homossexuais porque, iniciado ainda sob a vigência do AI-5, foi vitimado por inquérito policial, baseado na Lei de Imprensa da época e na velha lenga-lenga de ataque à moral e aos bons costumes. O processo sem eira nem beira durou 12 meses (agosto de 1978 a 79). Então, os gays já estavam representados na narrativa da perseguição aos homossexuais pelos militares.
Mas faltavam as lésbicas. Problema é que as comadres de James Green e Renan Quinalha (o outro protagonista da tese citada) não produziram publicação alguma para figurar como vítima dos militares. Já a partir de meados de 1981, com o fim do coletivo do lésbico-feminista, que produziu a versão tabloide do Chana, elas sumiram como a maioria dos militantes dos primeiros dois anos.
Um apanhado do histórico do MHB (Movimento Homossexual Brasileiro)
O MHB teve uma trajetória peculiar, que não sei se possui paralelo com a de outros países, e que resumo aqui. Começa a todo o vapor em 1979 e quase desaparece nos anos 80, criando uma espécie de hiato entre o ativismo dos anos 80 e das décadas seguintes. Ele tem como marcos fundadores o surgimento do tabloide Lampião da Esquina no Rio e do grupo Somos em São Paulo, ambos em 1978.
O grupo Somos nasce como um grupo de amigos gays que se reunia para falar das dores e delícias de ser homossexual, na época mais das dores. No ano seguinte, 1979, quando o grupo começou a desenvolver atividades públicas, como participar de debates, passou a se tornar mais conhecido e a crescer rapidamente, o mesmo acontecendo com outros grupos pelo Brasil que foram pipocando aqui e ali. O fato de o Lampião da Esquina ter sido divulgador das atividades do Somos e dos grupos em geral, nos primeiros dois anos, 79-80, é a provável causa desse crescimento abrupto, pois amplificava a causa homossexual no país.
No final de 1980, porém, os grupos começaram a se desentender com o pessoal do Lampião da Esquina que, segundo eles, não estava mais divulgando as organizações como devido. Depois se inicia uma novela, nos primeiros meses de 1981, sobre a participação do jornal na organização do II Encontro de Grupos Homossexuais Organizados (II EGHO), já que a comissão organizadora carioca se diluíra, e que termina em março com a rejeição desse protagonismo, o que levou os editores a não mais divulgar os grupos e suas atividades. (Os números de 31 a 35 do Lampião registram a história na seção "ativismo"). O encontro acabou não sendo organizado no Rio e se optou pela realização de encontros apenas regionais. O próprio Lampião da Esquina termina em meados de 1981, e toda a efusão dos primeiros dois anos do ativismo LG começa a refluir. As lésbicas do coletivo lésbico-feminista (maio 78- maio 81) também se desarticulam e várias migram para o armário feminista. Até o início de 1984, vão desaparecer também o Somos e o Outro Coisa, sobrevivendo somente o GALF desse chamado ciclo libertário.
Então, repetindo, as comadres de Quinalha e Green desapareceram e só reapareceram 12 anos depois com o renascimento do movimento que ajudei a rebatizar de gay e lésbica no VII Encontro de Lésbicas e Homossexuais (set. 1993) já citado. Então, o único grupo de lésbicas que se manteve foi o GALF e as únicas publicações regulares dos anos 80 foram o ChanacomChana, seguida do boletim Um Outro Olhar.
Como o Chana começou a ser produzido nos últimos 2 anos do regime militar, contemporâneo da campanha das Diretas Já, acabou na mira dos produtores da narrativa “homossexuais perseguidos pelos militares” que resolveram roubar a publicação para ilustrar suas fábulas.
Ao fazer isso, contudo, apenas comprovaram o quanto sua tese é falsa, pois o Chana não aborda o regime militar em momento algum, nem em notinhas. E isso se explica porque o movimento da época, como comprovado pela referência da própria CS que citei, não queria a questão homossexual atrelada a então chamada luta maior, como almejavam os trotskistas. Tal postura fica cristalina no texto de Rosely, Autonomia (CCC 4), e no da Vanda Frias sobre a manifestação do Ferro’s, Democracia também para as lésbicas: Uma luta no Ferro’s Bar (CCC4). onde ela registra a orientação política do GALF. Ver CCC 4 aqui.
Então, seja porque cronologicamente sequer estávamos mais numa ditadura e sim no período da redemocratização, seja porque nem eu nem ninguém do GALF fomos importunadas pelos militares, seja porque o ChanacomChana nunca sofreu qualquer problema com a censura da época, seja porque a linha editorial da publicação era exclusivamente focada nos direitos homossexuais e das mulheres, qualquer ligação do zine com resistências à ditadura militar se constitui em fraude grotesca.
Chega a ser particularmente ridículo, aliás, num momento em que o Brasil promovia um dos maiores movimentos de massa de sua História, a campanha das Diretas Já, com milhares de pessoas nas ruas, sem repressão, vir alguém falar que lésbicas e gays estavam sendo perseguidos pelos militares.
No período da transição democrática, o que havia de receio das pessoas quanto aos militares era de um possível revertério no processo de abertura, já que algumas correntes radicais do regime não a queriam. Mas como diz o ditado de Victor Hugo (a ele atribuído ao menos), “nada é tão poderoso como uma ideia cujo tempo chegou”. Maior exemplo disso foi a tentativa de integrantes do exército de colocar uma bomba no Rio Centro, durante um show pelo Dia do Trabalho, em 31 de abril de 1981, e que explodiu no colo de um deles (foto abaixo). Carma instantâneo.
 |
Bomba detonou no colo do sargento Guilherme Rosário
Foto de Anibal Philot / Agência O Globo |
Acho que principalmente minha geração, que cresceu sob o regime militar, pegou esse cacoete de chamar os 21 anos de sua vigência genericamente de “ditadura militar”, embora o regime tenha sido bem heterogêneo, o que facilita a vida dos fraudadores. Tendo isso em vista, eu mesma venho me policiando no sentido de ser mais precisa. Considerando o que descrevi acima, é fácil de entender o porquê.
 |
| Montagem com imagens de IA - ©Míriam Martinho |
Chanacomchana é o passado falando com sua voz própria
Concluindo, dou um exemplo do tipo de embuste em voga usando o Chana, no caso uma de minhas tirinhas, para ilustrar a suposta perseguição dos militares contra as lésbicas. Minha tirinha “Quem é sapatão pro camburão”, que ilustra meu texto A Negação da Homossexualidade (CCC 2, p. 2), do qual é parte indissociável, critica o discurso dos "descolados" da época contra a identidade homossexual porque esta seria um rótulo restritivo da sexualidade humana, mas foi tirado de seu contexto para representar, nas teses picaretas da vida, uma suposta perseguição das sapatonas durante a ditadura civil-militar brasileira.
Neste artigo, eu, na realidade, questiono a discussão muito em voga de 82 em diante, tanto que a abordo outra vez no CCC 5, de que afirmar uma identidade homossexual implicaria "cair num esquema de normatização, modelização, padronização das categorias sexuais". Argumentava que essa discussão, da forma como posta então, levaria à invisibilidade da homossexualidade e à desmobilização política, como de fato ocorreu. Como se reivindicar direitos políticos para seres humanos marginalizados por sua orientação sexual, sem estabelecer um sujeito político, reconhecido pela sociedade, para essas reivindicações? Simplesmente sair-se negando as identidades de hétero, homo, colocando-se como "apenas gente", como na tirinha, mudava a realidade objetiva do tratamento diferenciado dado a héteros e homos?
A referência às batidas dadas pelo sensacionalista delegado José Wilson Richetti da Delegacia Seccional do Centro de SP, em 1980, nos bares lésbicos (conhecida como Operação Sapatão), aparece na tirinha apenas para dar ênfase às situações bem diferenciadas que lésbicas e héteros podiam enfrentar no cotidiano.
As ações de Richetti, em 1980, porém, se deram em função da marginalidade em que viviam gays e lésbicas ainda nesse período, não em função de perseguição do Estado militar. No mesmo ano, Richetti também resolveu fazer uma operação limpeza no centro de São Paulo que igualmente vitimou negros, prostitutas e travestis. A truculência da polícia ainda hoje se faz sentir junto às populações mais periféricas e não estamos mais no regime militar (né, mesmo?).
 |
| Crítica ao discurso da não identidade homossexual, muito em voga nos primeiros anos da década de 80, que afirmava serem identidades apenas rótulos, como se bastasse alguém dizer que não era homossexual para a opressão terminar |
Em maio de 83, no CCC 3, seção Informes, inclusive registrei o encontro dos grupos de gays e lésbicas com o Secretário de Segurança de SP, quando se reivindicou o fim da abordagem policial contra homossexuais com base no muito subjetivo conceito de “atentado ao pudor”, tendo obtido do mesmo a promessa de que trabalharia para impedir esse abuso contra gays e lésbicas.
Por último, repetindo o que já disse em outros artigos sobre o Chanacomchana, ele é o passado falando com sua voz própria, não o passado confessando sob tortura o que uns e outras querem que ele diga. Basta lê-lo de fato, em vez de ficar fazendo "copia e cola" de teses vigaristas, que se encontrará tudo que ele tem a dizer sobre as vivências lésbicas dos anos 80, sobre a trajetória do GALF, do MHB, do incipiente movimento de lésbicas que se iniciava internacionalmente. O que não encontrará com certeza é qualquer menção ao regime militar em seus estertores. Para facilitar, resenhei todas as edições do Chana, como segue abaixo, mas vale a leitura de seus números para conferir o que digo e não sair comprando gato por lebre.
Nota: Perguntei a uma IA, Sender GPT 4, sobre as consequências de se reescrever a história, e ela respondeu o seguinte:
Reescrever
a história pode apresentar vários riscos, incluindo:
- Desinformação: A reescrita pode distorcer fatos e
eventos, levando a um entendimento incorreto do passado.
- Perda
de Contexto:
Alterações na narrativa histórica podem fazer com que sejam ignorados o
contexto e as complexidades dos eventos.
- Espalhamento
de Narrativas Parciais:
Muitas vezes, a reescrita é feita a partir de uma perspectiva específica,
o que pode levar a uma glorificação ou demonização de certos grupos ou
figuras.
- Consequências
Políticas: A
reescrita da história pode ser usada para justificar ações políticas
atuais ou promover ideologias, afetando a memória coletiva e a identidade
cultural.
- Divisão
Social: Narrativas
conflitantes sobre o passado podem fomentar divisões entre diferentes
grupos sociais, étnicos ou políticos.
- Deslegitimação
de Experiências:
Reescrever a história pode minimizar ou deslegitimar as experiências e
sofrimento de certos grupos, perpetuando injustiças.
- Erosão
da Confiança: Se a
história frequentemente é reescrita, pode haver uma erosão da confiança
nas instituições e figuras responsáveis pela preservação da verdade
histórica.
Esses
riscos destacam a importância de uma análise crítica e fundamentada das
narrativas históricas.